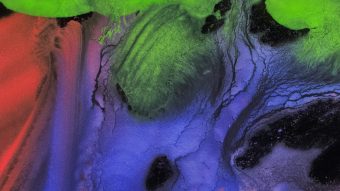O cinema brasileiro nasce experimental, disse Júlio Bressane buscando as origens do cinema nacional embalado pelas águas de Limite (1930), de Mario Peixoto. Em Sofá (2020), Bruno Safadi, parceiro cinematográfico de Bressane desde Os Dias de Nietzsche em Turim (2002), intervém deliberadamente nas imagens para experimentar um Rio de Janeiro em ruínas, pré-apocalíptico.
Convidado pelos atores Ingrid Guimarães e Chay Suede para escrever e dirigir um filme com eles, Safadi foi do cinema mudo à manipulação digital para contar a história de dois personagens poéticos marginalizados, no melhor estilo Acossado (1960) ou Bande à Part (1964), de Jean-Luc Godard. Em meio à tragédia urbana carioca, Joana d’Arc e Pharaó sobrevivem à cidade com a persistência dos vagalumes de Georges Didi-Huberman, autor citado pelo cineasta: como pequenas luzes que lutam contra as grandes luzes do nosso tempo saturado.
Na ocasião da exibição do filme na mostra A Imaginação como Potência, dentro da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Bruno Safadi falou ao Cine Festivais a respeito de questões que permeiam o seu processo de realização.
Sofá parece um reverso de O Prefeito (2015), quase um filme duplo, com um vínculo de causa e consequência. Qual a relação de concepção, produção e diálogo que você estabelece entre os dois filmes?
Exatamente isso que você falou: é um duplo, uma vontade de continuar essa história, mas sob o ponto de vista de quem recebe o projeto do prefeito. Também tem a diferença de quatro anos. O Prefeito foi filmado em 2014, num momento de um Rio de Janeiro completamente megalômano, de uma ideia de cidade que praticamente caminhava pro Primeiro Mundo, com muito dinheiro, muitas oportunidades, diminuição de violência, projetos faraônicos de reviver uma grande história da cidade. Quatro anos depois, o que acontece com esse projeto? E o que acontece com as pessoas da cidade? Eu penso muito que houve uma oportunidade de realmente fazer um projeto de cidade, com muito dinheiro correndo, mas foram feitas poucas mudanças sólidas para o Rio de Janeiro.
O Sofá carrega essa marca de depois que tudo caiu. E o que caiu foi a vida dessas pessoas comuns, porque as pessoas com dinheiro continuam com dinheiro, e quem é afetado mesmo é o povo. O filme trata justamente disso: uma professora que perde a sua casa e vai morar na rua. Então é um duplo sim, O Prefeito e Sofá, agora mostrando o lado do afetado. Apesar disso, ele carrega ainda uma ideia de luta, de sobrevivência, de transmissão de experiência e de esperança. Eu acho que o filme tem uma carga pesada, triste, mas ele termina com uma semente de continuidade, de luta, de sobrevivência. É essa ideia do vagalume que perpassa o filme, tanto dentro da história quanto o próprio filme em si, como um exemplo de tudo que está aí e que sempre existirá. Sempre existirão filmes como esse, como Sofá. Os vagalumes nunca morrerão, sempre vão continuar vivos; por menores, mais frágeis que eles possam ser, eles vão sempre existir. E o filme em si é um exemplo disso, assim como a história dos personagens. Em O Prefeito, o filme acaba com o prefeito petrificado, e Sofá não, ele acaba com vida, pulsando.
O Rio de Janeiro em ruínas é a imagem desses dois filmes. Aquela maquete de ruínas da cidade dá a ideia de um projeto de ruína, uma ruína estrategicamente pensada. Sofá capta esta atmosfera apocalíptica muito bem no trabalho com as colagens, as fragmentações e fraturas das imagens e dos sujeitos. De alguma forma o filme traduz o colapso da cidade mantendo um romantismo dos primeiros filmes do Jean-Luc Godard, por exemplo, que você homenageia explicitamente. De onde vem esse romantismo em meio ao caos? Do cinema, da cidade…
Eu acho que o romantismo é de mim mesmo, de continuar fazendo filmes. (risos) Uma pessoa pragmática não estaria fazendo cinema… Ainda mais cinema autoral, experimental e com recursos próprios. Realmente é uma crença muito grande na realização, no cinema. Foi um filme que eu realmente fiz com o meu dinheiro. É muito difícil você hoje, ainda mais no mundo que a gente vive – é economicamente muito difícil viver no Brasil -, pensar em gastar o que você tem pra fazer um filme, né? Então esse romantismo eu acho que vem de mim mesmo, e de uma crença no cinema, na realização, nesse ideal de intervalo e sobrevivência, de continuidade acima de tudo.
Sofá traça uma linha quase histórica em relação ao final de um certo cinema, não só no seu modo de produção, mas também nesse apontamento para o futuro, de ver uma esperança na tragédia, no caos. Isso também é muito característico do cinema que você referencia.
Exatamente. E colocar essa esperança na linguagem do cinema, no próprio filme, nas cores… As cores trazem essa ideia da esperança, esse contraste com a tragédia. É uma tragédia colorida, viva, pulsante. Os próprios vagalumes, aquele surto de vagalumes. Eu acho que o Godard e o próprio cinema marginal brasileiro nascem em momentos de mundo muito duros também, mas sempre trazendo uma esperança. E uma esperança através do cinema, uma alegria apesar de tudo de viver, de estar vivo. A gente tem que comemorar mesmo.
Estou fazendo agora um filme sobre um mito judaico-cristão, Lilith. Fui a Israel e você vê aquela realidade dos árabes com os judeus… uma violência tão grande. É tudo tão violento, e a gente ter a oportunidade de estar criando uma obra de arte nesse mundo, estar fazendo um filme com total liberdade, sabe? É um presente e tem que ser celebrado, tem que ser agradecido. Ontem eu estava filmando o Lilith e filmei a cena em que Adão e Eva comem a maçã. Eu saí tão emocionado, e pensei: “Cara, estou tendo a oportunidade de filmar talvez a cena mais famosa da história do planeta”. Claro que eu escrevi, que passei sete anos batalhando pra fazer este filme. Ao mesmo tempo é uma dádiva poder nesse momento estar fazendo isso da vida, sabe? Estou falando mais sobre a vida do que sobre as perguntas… (risos).
Mas o teu filme fala sobre a vida, ele enseja isso. Já que você falou desse novo filme, vou emendar uma pergunta que tinha planejado para o final: pode falar um pouco sobre o grupo Tela Brilhadora? Você comenta bastante a respeito dos modos de produção dos filmes, de vocês como coletivo, mas eu queria que você falasse um pouco de como vocês pensam a distribuição? Já pensando em algumas exibições combinadas que vocês fizeram dos filmes em alguns lugares: Garoto (2015), de Júlio Bressane, O Espelho (2015), de Rodrigo Lima, Origem do Mundo (2015), de Moa Batsow, e O Prefeito. Vocês costumam exibir bastante eles assim de forma coletiva? Tem um pensamento sobre isso? E quais os próximos projetos seus e do grupo?
Olha, eu acho que essa é a parte mais frágil, a da distribuição. Porque a gente tem uma ideia de que a questão da realização é cada um consigo mesmo e o processo é de crescimento pessoal, de crescimento humano. Isso pode ser mal interpretado, mas a gente faz filmes para nós mesmos. Eu acho que essa hora de dar a chance dos outros verem fica pra segundo plano, sabe? (risos). Porque quando a gente vai exibir, a gente já está fazendo outro filme. Isso sempre acontece, é impressionante.
Também tem o outro lado da questão, que é a falta de interesse em exibir os nossos filmes. Tem pequenos lugares… tem uns vagalumes que exibem. Às vezes a gente passa filmes em grandes festivais, e quando saem as seleções recebemos imediatamente pedidos de sales agents pra ver os filmes, e nunca nenhum sale agent quis trabalhar os nossos filmes. É curioso. E sales agents que frequentam festivais como Roterdã, Locarno…
Ao mesmo tempo, há essa longa conversa entre nós sobre a realização. A nossa vontade é sobretudo realizar. Até porque a gente, e eu acho que o Rodrigo e o Júlio também, tem essa crença, de que não fazemos filmes imediatistas. A própria carreira do Júlio fala isso claramente. São filmes que à sua época não tiveram quase circulação alguma. Nos anos 1970, todos do Júlio não foram exibidos, e hoje há um interesse muito grande. Então a gente até tem sorte, os filmes passam, mas eu sei que eles também poderão passar mais pra frente, sabe? Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, esses filmes podem ter saída também. Então é uma relação de exibição diferente. Não tão imediatista, não tão comercial.
Sim, a produção é de urgência e a exibição é longeva.
Isso (risos). E o Tela Brilhadora é um projeto que a gente tem uma referência muito grande da Belair. A gente digo eu, o Rodrigo e o próprio Júlio. Acho que a Belair foi pro Júlio – eu percebo, sinto – a grande realização da vida dele. Ele traz muito pra gente essa época, conta histórias, fala muito a respeito. E eu em 2012, 2011, fiz a Operação Sonia Silk com o Ricardo Pretti, a Leandra Leal e a Mariana Ximenes. Acho que a Operação Sônia Silk foi um alerta pro Júlio de que a gente também estava pronto pra ter uma outra vivência coletiva, sabe? Exatamente depois disso, quando eu estava escrevendo esse roteiro que estou filmando agora, do Lilith, fiz uma apresentação em um laboratório de roteiro em Amsterdã e o festival estava apresentando um filme do Júlio, acho que o Aperana [Rua Aperana 52, filme de Júlio Bressane de 2012], e ele veio pra mim e falou: “Bruno, eu quero conversar contigo, tô querendo produzir um filme pra você, agora chegou a hora, você já me ajudou muito e eu quero agora te ajudar a fazer um filme.”. E aí dez minutos depois ele falou: “Bruno, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois filmes pra você e eu vou fazer um! E a gente faz três filmes!” (risos). O que era um filme já virou três, e já virou um projeto coletivo! E eu tinha acabado de fazer uma trilogia, escrevendo um outro filme, e ainda tinha mais dois pra filmar pra daqui seis meses, fudeu! (risos). Aí eu disse o seguinte: “Júlio, vamos chamar o Rodrigo – que já montava os nossos filmes e era super amigo, parceiro -, aí cada um faz um e a gente faz três. Depois a gente acabou estendendo pro Moa também, e aí nasceu o Tela Brilhadora.
Eu acho que o Tela Brilhadora nasceu também da percepção do Júlio de que a gente estava pronto, a gente mais jovem e ele também, de novo estava pronto pra viver uma experiência radical coletiva. E assim nasceu a Tela Brilhadora. E ela continua, de uma maneira mais pragmática. Vamos lançar juntos, ao mesmo tempo, o Calypso (2018), de Lucas Parente e Rodrigo Lima, e o Sedução da Carne (2018), de Júlio Bressane, mas de uma maneira mais informal. Vamos fazer filmes novos juntos, mas também vamos respeitar o tempo de cada um.
E o Sofá talvez saia junto com o Capitu [Capitu e o Capítulo, projeto de Júlio Bressane a ser lançado em 2020/2021], né?
É, é isso, a gente também não para de fazer filme, né? (risos) Os filmes estão sempre saindo juntos.
Você falou bastante no debate sobre a importância das cores e da manipulação das imagens em Sofá. O uso dos filtros das cores remete também ao cinema mudo. Como foi esta etapa do trabalho? Como este trabalho em cima das imagens de certa forma expande ou dá continuidade às imagens do cinema de invenção? Pode falar um pouco mais sobre isso?
Estava dando uma entrevista agora pra outro jornalista e ele perguntou por que “paródia tropicalista” [parte da sinopse do filme], e eu falei que inicialmente era uma paródia modernista, e modernista por quê? Porque essa ideia do moderno tá muito ligada ao pintor Edouard Manet. A pintura nesse momento no século XIX já estava avançadíssima: a tridimensionalidade, a ilusão de realidade, o quadro, e tal. E o Manet faz o caminho contrário, ele volta ao bidimensionalismo, ele evidencia o dispositivo nas pinturas, bloqueia a tridimensionalidade dos quadros, e com ele nasce essa ideia do moderno. O moderno que influencia e vai dar aqui no Brasil nesse modernismo brasileiro, que vai dar no concretismo nos anos 1950, dos irmãos Campos, do Décio Pignatari, e que influencia toda essa geração dos anos 1960, seja na música como no cinema do Bressane, do Sganzerla, de toda essa geração. Então eu acho que o filme lida muito com essa chave do moderno, de evidenciar o dispositivo dentro do filme, e também lida muito com essa ideia de intervalo e sobrevivência.
Daí surge essa ideia das cores, do modernismo e do tropicalismo. A cor como que reaviva um procedimento técnico usado no cinema mudo, mas já transformado. Porque a cor no cinema mudo estava muito ligada aos estados do dia, da noite, do tempo. Um pouco ao estado emocional dos personagens também, mas em Sofá isso se aprofunda na psicologia dos personagens e na produção de formas simbólicas, emocionais, mais do que nos momentos temporais.
No final há uma referência ao Roma Cidade Aberta (1945), de Roberto Rossellini, como o Pedro [Butcher] falou no debate, mas também me lembra muito o Seja Marginal, Seja Herói, do Hélio Oiticica, que usa a cor nesta forma de filtros para estampar uma tragédia brasileira e ao mesmo tempo reforçar a ideia de resistência ou sobrevivência, como você fala.
Tem ali também uma homenagem a Os Cafajestes (1962), de Ruy Guerra, a Norma Bengell na areia, girando. Mas eu acho que essa coisa das cores no filme traz muito também esse ideal do moderno, essa celebração da arte, do cinema e do fugir do realismo. Do cinema em primeiro lugar. De você realmente contar uma história com o cinema, sabe? Como eu falei no debate, essa história não poderia estar no streaming, não poderia estar na televisão, ela só poderia estar no cinema. As ferramentas desse filme são ferramentas de cinema. E isso está muito presente através, sobretudo, das cores.
Meu nome é Dindi ganhou a primeira edição da Mostra Aurora, aqui em Tiradentes, em 2008. O recorte da Aurora sempre foi de realizadores com poucos longas (antes eram dois, e agora são três), o que traz embutida uma ideia de revelação de uma nova geração. Pensando na sua trajetória desde 2008, que tipo de conexão geracional você sente que tem com o que vem sendo produzido no cinema independente brasileiro?
Eu me identifico muito com o cinema brasileiro produzido hoje. Inclusive tenho muitos amigos que são mais jovens que eu dentro da minha profissão, porque acho que o modo de produção que eu faço nos meus filmes, assim como esse mesmo modo de produção que o Bressane faz há 50 anos, é um modo de produção muito jovem, né? Com muitos poucos recursos. Então tem uma identificação. Aí o que você vai fazer com esse modo de produção… cada um faz o seu. Mas o modo de produção é o mesmo dos jovens.
Certo, e você se identifica como parte de uma geração de cineastas? Identifica pares?
Na minha? Sim, eu acho que os que trabalham comigo, o Rodrigo Lima, o próprio Bressane, que é um garoto (risos), os irmãos Pretti [Luiz e Ricardo Pretti], o Pedro Diógenes, o Guto Parente… o próprio Felipe Bragança, a Clarissa Campolina… são pessoas que estão aí, né? Agora essa galera mais jovem, o Gustavo Vinagre, que faz filmes diferentes dos meus, mas que eu admiro muito o cinema dele. Eu vi em Turim o primeiro filme do Bruno Risas (Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu), que vai passar aqui na Mostra Aurora, e me encantei com ele, acho um belíssimo filme.
São resultados diferentes, e acho que é bonito isso também, porque mostra singularidades, traços verdadeiramente autorais. Não o termo autoral como uma prateleira, e sim uma assinatura que é única, sabe? Nesse sentido eu fico muito feliz por receber muitos retornos de quem vê meus filmes. Eu recebi um e-mail de um amigo italiano que acompanha meu trabalho há 20 anos, antes mesmo de eu fazer os meus filmes. Ele escreveu falando que Sofá dialoga com esse cinema dos “pioneiros”, – que é como ele chamou essa primeira geração do cinema marginal -, mas que não é escravo deles, tem a sua própria particularidade, singularidade. Eu sinto que eu estou construindo uma trajetória que é minha. Que lida com o Bressane, com o Sganzerla, e também com essa geração mais jovem, mas que tem um traço que é meu, sabe? Isso me deixa muito feliz porque mostra que eu estou colocando tudo de mim ali. Aí sai algo único, algo que é seu, congruente, regular. Este é meu sétimo longa-metragem, já estou fazendo um oitavo. É uma trajetória muito regular, e nesse sentido poucos diretores, mesmo da minha geração, conseguiram fazer tantos filmes. Acho que talvez o Guto Parente tenha feito oito filmes, o Pedrinho (Diógenes) talvez, mas você conta numa mão quem em dez, doze anos fez oito filmes. E produzindo, dirigindo, escrevendo, trabalhando no [filme] dos outros, fazendo trabalhos para a grande indústria, episódios de séries pra pagar as contas de casa, a escola do filho… a mensalidade do filhote tá aí, né? (risos)