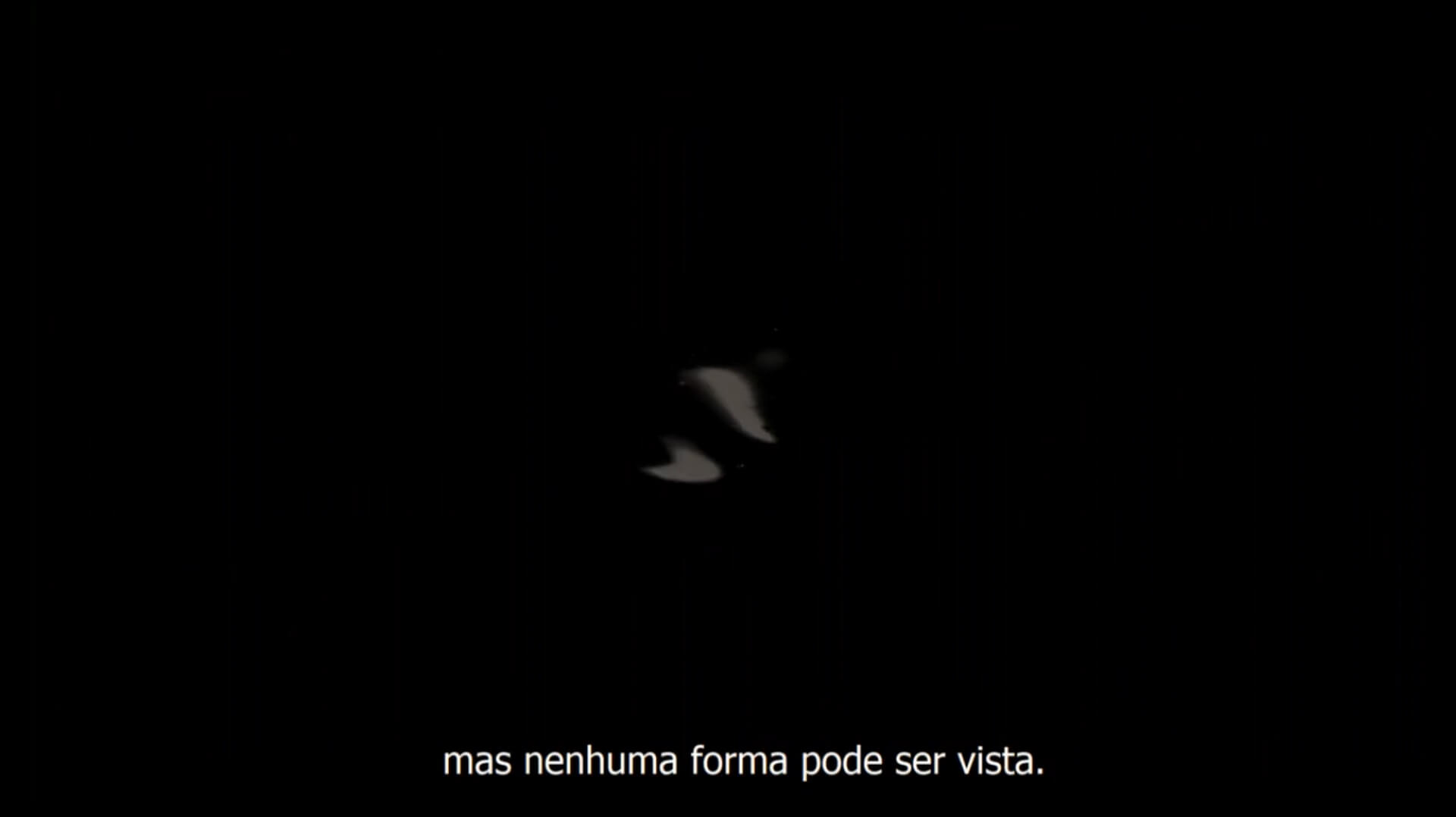Da pergunta e das entranhas
por Larissa Muniz, do Coletivo Zanza
Vê-se muito pouco na noite infinita de Gujiga, mas o que se vê carrega a técnica do detalhe, das lentes microscópicas que desvendam a matéria do mundo, e tornam os poros da casca do ovo da tartaruga, descartáveis ao olho humano, proporcionais às gigantes crateras da Lua. Vê-se um cenário obscuro, quase pré-sol, pré-iluminação. Os vestígios humanos estão no concreto da praia, no barco que atravessa a água, cortando-a em linha reta em direção a um único destino possível. Seria, então, pós-iluminação? Dos poros, vemos o casco; do casco, a Lua; da Lua, seu reflexo na água escura. Nesse filme um tanto misterioso, gosto de pensar que sua essência está justamente nesse reflexo instável da Lua na água, uma mancha branca contra o quadro preto em movimento.
Gujiga é o canto, a ode à tartaruga, segundo o filme de Sunjha Kim. A beleza milimétrica dessa ode vem junto de uma violência simbólica (e física) imposta à tartaruga (somente à tartaruga?). Gujiga é o que as deusas ressoam, da Lua. Ou as tartarugas mães, que tudo vigiam? Gujiga é a resposta aos “pip’s” que as bebês tartarugas emitem de dentro do casco, antes de respirar o mundo, para garantirem que não vão sair sozinhas da casca solitária. Lá é seguro, lá as vozes impostoras não entram. Gujiga é ode ao falo e à fertilidade. Gujiga é pergunta? Quem pergunta?
No filme, são as vozes femininas que fazem a pergunta, colocando em xeque, talvez, o discurso violento que elas mesmas trazem nas palavras: elas cantam “O tar-tar-tar-taruga, ponha sua língua para fora, se desobedecer, vamos arrancar suas entranhas!”. Elas ressoam a tradição desse canto ancião, mas não me parecem repeti-lo em completa aderência. Elas o ecoam à distância, com a emoção de quem vê o mito ruir, quem sabe? Porque, afinal, essas deusas são o mito, ou elas repetem o mito? Elas não podem perguntar se elas são o mito. Elas podem apenas ser a pergunta. Então, coletivamente, elas quebram o segredo desse pacto silencioso e agressivo, duvidando dele. Elas se perguntam enquanto olham e escutam as tartarugas. Nesse ato de perguntar, algo me parece sair do lugar – as entranhas da linguagem são exploradas, junto de sua suposta objetividade: no canto Gujiga, o formato das rachaduras dizem do sexo de um futuro bebê; no filme Gujiga, a rachadura é só uma abstração, uma forma a se investigar.
“Sons de pessoas podem ser ouvidos, mas nenhuma forma pode ser vista”. O som, a linguagem, vem antes da forma? Antes do olho? As tartarugas sentem o casco redondo antes de ver a imensidão do mar. Elas ouvem o “pip” antes de respirarem a maré. Elas se comunicam antes de sequer completar o primeiro movimento na areia. Elas racham a estrutura antes de sair porque precisam, porque sufocavam. E quando saem precisam correr: em busca da luz, do reflexo da Lua (é a Lua?), em direção ao mar negro. A corrida que garante a sobrevivência. Elas correm das vozes que ameaçam a morte? Elas correm em direção à mãe? Elas correm em direção à fluidez da água, em contraposição à dureza do ovo?
É difícil delinear o que está no filme e o que estou projetando sobre ele. Mas se ele pergunta, e eu ouço, e pergunto de volta, há um espaço aberto de invenção e fabulação. Representação suspensa? Contra-representação? A tartaruga corre e é engolida pelo mar. Seu osso, ou a escultura da sua estrutura óssea (uma espécie de Vênus-tartaruga?), é exibida com toda a divindade da técnica que o cinema digital permite. A imagem definida da tartaruga é invadida pelas vozes, pelo canto folclórico da Lua (ou para a Lua). A rachadura volta a se fechar, a tartaruga volta para dentro. O ar não passa. Resta a opacidade. O falo não pode sair mais.
Aqui retorno à imagem da Lua flutuante na água: sabemos que o reflexo branco é a Lua por uma relação básica de montagem; no entanto, esse quadro pode ganhar outros contornos possíveis a partir da relação duvidosa com o discurso. A mancha não é mais Lua – é mancha, branca contra fundo preto, instável e mutante, indefinida. Fico pensando que, no final, o filme ressoa como uma experiência, uma tentativa (não necessariamente vitoriosa) de tornar a pergunta, duvidosa, mais importante que o discurso certo. Aí, quem sabe, a linguagem pode rachar tal qual o ovo, que não vai significar o sexo do filho (o falo) do rei, mas vai ser, pura e simplesmente, rachadura.
* Na mesma sessão, o glitch possível do cinema digital, em contrapartida à imagem limpa e definida, dá lugar à frase “CAPITALISMO É PANDÊMICO”. Depois, o “Desborde” do rio soterrado pela modernidade, resultando na descrença pela cidade. Por fim, a abstração de “memby” que tenta chegar a uma certa vibração pela vida, sem forma definida. Talvez ainda mais que sobre “a vida das coisas”, a sessão carregue a morte – ressignificada, vibrante.